
Graças aos céus! A crise…
O perigo passou,
E a prolongada doença
Por fim se acabou
E essa febre chamada vida
Por fim foi subjugada.
Os versos acima estão citados nas páginas do romance O Poeta, de Michael Connelly, um dos grandes autores do policial contemporâneo. Eles formam o trecho de abertura do poema Para Annie, publicado na edição de março de 1849 do periódico The Flag of Our Union pelo poeta Edgar Allan Poe (1809–1849). Os poemas de Poe (POEmas?, desculpem, não resisti) são fundamentais para o andamento da trama do romance O Poeta, livro de estreia de Connelly (e publicado muito antes da tosquíssima The Following entrar em produção, para aqueles que só veem televisão). São a marca que identifica o assassino serial retratado no romance, especializado em matar policiais assombrados por crimes não resolvidos.
Poe é provavelmente o mais conhecido escritor a ter associado seu nome e sua obra com o chamado período “gótico” — que incluiria também gente como o inglês fundador do gênero, Horace Walpole, o francês Prosper Merimée e o alemão E.T.A. Hoffmann. Ele também foi o pioneiro da literatura policial, crítico e contista e foi genial em quase todas as atividades. Logo, não é de se admirar que seja de quando em quando revisitado por escritores de diferentes gêneros, inclusive aqueles que ajudou a criar .
O romance policial é um gênero de cartas marcadas e de estrutura um tanto rígida. Há um limite para até onde se pode ir na “inovação” de um policial sem que ele deixe de ser um policial para ser outra coisa, E é justamente esse desafio o motivo pelo qual, de tempos em tempos, autores dispostos a tentar novos truques tentam insuflar novidade nesse tipo de narrativa tão característico. Um desses recursos – que têm ganhado força particularmente neste século 21 – é o uso de personagens reais como protagonistas . Mais de um lançamento recente apresenta tramas de crime nos quais escritores de verdade têm papel de destaque, sem falar nas séries da Netflix que transformam, por exemplo, nomes como Sigmund Freud em investigadores insuspeitos. Vão de Os Crimes do Mosaico e Os Crimes da Luz, do italiano Giulio Leoni, protagonizados por Dante Alighieri, a Crítica da Razão Criminosa, de Michael Gregorio, no qual as páginas de um suposto estudo secreto de Immanuel Kant sobre o funcionamento da mente criminosa são fundamentais para a resolução de apavorantes assassinatos na pacata Königsberg onde morou o filósofo. Com espaço ainda para a obra de um mestre das letras inglesas como Julian Barnes, que em Arthur & George transforma em um emocionante romance uma história real vivida por Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. O próprio Freud, já citado personagem da série da Netflix, já foi concebido como um investigador em um livro, A Interpretação do Assassinato, de Jed Rubenfeld. Este seu autor não viu a série da Netflix, mas leu o livro. E pela sinopse, chegou a conclusão de que as duas obras não têm nenhuma conexão além do personagem.
Esse tipo de narrativa de mistério, já praticada o bastante para ser considerado um subgênero, talvez tenha visto um particular desenvolvimento nestes últimos anos devido a uma conjunção de fatores. O primeiro é a nunca completamente aplacada voracidade do público por “histórias de crimes reais”, do que dão testemunho uma infinidade de programas de TV com esse tipo de mote entre o “documental” e o “sensacionalista”. Outro ponto talvez seja o próprio florescer da cultura da celebridade contemporânea, que resvala no fato de que não estamos mais falando de um personagem fictício seriado, mas do uso da imaginação para dar novas facetas a personagens tão famosos que já se tornaram eles próprios “marcas” ou “ideias”.
Como seria de se esperar, Poe é uma dessas “celebridades recorrentes” em romances do gênero. Há vários autores que transformaram o melancólico artista americano em personagem, principal ou não, em diferentes fases de sua vida, em tramas por trás das quais se tenta desvendar a autoria de um ou mais homicídios brutais. São exemplos dessa tendência O pálido olho azul, do americano Louis Bayard; O menino americano, de Andrew Taylor; Vou lhe mostrar o medo, do norueguês Nikolaj Frobenius; e, finalmente, A sombra de Allan Poe, de Mathew Pearl, de quem já foi publicado no Brasil O clube Dante, cujo tema é a obra de outro escritor: o já citado Dante Allighieri.
Parte desse fascínio exercido por Poe pode-se explicar pelo fato de que em sua breve e produtiva vida ele cumpriu a trajetória dos grandes outsiders românticos: existência errática, conflitos familiares, pobreza e morte prematura, com apenas 40 anos, em virtude do alcoolismo. Apesar de sua importância, já comentada, algumas das passagens dessa vida são escassamente documentadas e têm cronologia incerta, o que é um convite para que autores fãs do poeta ficcionalizem essas lacunas completando pesquisa com imaginação.

É o caso de O menino americano (Suma de Letras, 499 páginas, R$ 54,90), de Andrew Taylor, que reconstitui o período em que Poe morou com o padrasto em Londres, em 1819. Com apenas 10 anos de idade, o menino Poe é o coadjuvante da trama. Quem narra a ação é Thomas Shield, um jovem professor de uma escola para rapazes nos arredores da capital, na qual estudam Poe e um menino muito parecido com ele, o sensível e atormentado Charles Frant — a referência ao conto William Wilson, do próprio Poe, é clara, e é apenas uma dentre uma série de homenagens sutis ou declaradas: O corvo, por exemplo, teria sido inspirado por essa visão em um papagaio que falava francês, animal de estimação da mãe adotiva de Poe.
Shield se torna preceptor do jovem Frant e apaixona-se pela mãe deste. A amizade de Poe e Frant e as misteriosas ligações das famílias de ambos levam o professor a uma série de crimes cruéis, temperados com sexo e mortes horríveis no melhor estilo da imaginação gótica e atormentada de Poe. Curiosamente, à primeira vista o Poe de Taylor provoca estranheza aos que se recordam mais dos períodos doentios da vida adulta do autor. O jovem Poe do romance é inteligente, decidido, brigão e encrenqueiro, servindo muitas vezes como protetor do mais sensível Frant. O desenrolar dessa subtrama é um dos pontos de interesse do livro.
A personalidade de Poe também será explorada, ainda que num período posterior, em O pálido olho azul (Planeta, 432 páginas, R$ 39,90), que toma como mote e cenário outro ponto da obscura biografia do escritor: sua
passagem fugaz como cadete pela Academia Militar de West Point — da qual foi dispensado por “problemas disciplinares” com pouco mais de um ano de estudos.

Louis Bayard retrata a West Point de 1830. Hoje, a Academia Militar é a escola na qual se forma a elite política e econômica americana, mas, na época, pouco mais de 50 anos após a Independência dos Estados Unidos, West Point é uma iniciativa contestada, ainda alvo de muitas críticas quanto à sua própria necessidade. Para piorar, no romance de Bayard a instituição é aterrorizada por crimes macabros envolvendo estudantes do local. No primeiro deles, um jovem é encontrado enforcado, seu corpo é roubado e, depois, aparece mutilado, com o coração removido.
Um detetive aposentado chamado Augustus Landor é chamado pela direção da academia para investigar discretamente o caso, fazendo o possível para que o estrago à imagem do estabelecimento seja mínimo. Landor escolhe como seu assistente e espião na comunidade fechada dos cadetes o jovem estudante Poe. Este Poe que se encontra em O Pálido Olho Azul é alguém mais parecido com a figura com que seus fãs e leitores estão acostumados: atormentado, romântico, dramático, obcecado pelo sobrenatural e pela mãe, morta quando o garoto ainda era criança. A relação de Poe com o padrasto no livro também não é das melhores, já que o garoto está sendo enviado para a escola como uma última tentativa de ser “endireitado”. Embora seja um romance bem urdido, não deixa de ser um defeito da narrativa que as aparições de Poe roubem o interesse da trama, que começa bem e termina com um certo artificialismo histérico que também tenta emular temas recorrentes a Poe: criptas, cavernas subterrâneas e experiências macabras com o sobrenatural.

Vou lhe mostrar o medo, do norueguês Nikolaj Frobenius, faz uma cruza entre a trágica biografia de Poe e um outro gênero de suspense que se tornou muito comum nos últimos anos, o do “copycat killer”, ou “assassino imitador”, o criminoso que comete homicídios inspirando-se, às vezes com minúcia de detalhes, nos crimes de outro predecessor célebre ou em crimes narrados na ficção policial (não era outro o mote de Instinto Selvagem, vocês lembram, ou estavam prestando atenção só na Sharon Stone?).
O romance de Frobenius enfoca a vida de Poe a partir de 1841, período particularmente infeliz para o ainda jovem autor (tinha só 32 anos à época): está acossado por dívidas e pela pobreza, sua amada esposa está muito doente, seus textos vêm sendo particularmente depreciados numa verdadeira campanha por um crítico chamado Griswold. Para piorar, um assassino vem cometendo crimes inspirados nos contos de horror do autor de O barril de amontilhado e O gato preto.
Poe intui quem é o assassino, mas não compartilha seu conhecimento com a polícia. A narrativa oscila entre o atormentado escritor e o crítico Griswold, que tem com Poe uma relação tumultuada de admiração e repulsa turbinada por inveja. Griswold reconhece a fagulha do gênio do autor, mas não a aceita e faz de tudo para apagá-la. Será ele o criminoso? As respostas são entremeadas aos mistérios reais envolvendo os últimos dias de vida do escritor. Tópicos que também serão tema de outro romance,…
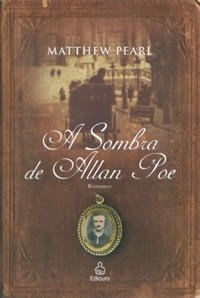
…A Sombra de Allan Poe, que, bem como o livro norueguês, tenta desvendar o último e mais persistente mistério envolvendo o escritor: sua morte. Poe foi encontrado em 3 de outubro de 1849 em uma sarjeta em Baltimore, debilitado, delirando e vestindo roupas que não eram as suas. Levado para o hospital, morreu quatro dias depois. Até hoje se discute quais teriam sido as causas de sua morte e os antecedentes que o levaram à situação em que foi encontrado. Já se deram razões várias além do alcoolismo, como diabetes, sífilis, raiva e alguma doença cerebral desconhecida. Pelo que li a respeito, é em busca dessa narrativa perdida dos últimos dias do escritor que Matthew Pearl parte em A Sombra de Allan Poe, mas não posso dizer mais porque, diferentemente dos outros, este eu não li.
Filed under: Literatura | Leave a comment »










 O mais recente exemplo a chegar às livrarias é
O mais recente exemplo a chegar às livrarias é 
